PSICANÁLISE LACANIANA - Capítulo IV
A Cultura
Márcio Peter de Souza Leite
• O lugar da psicanálise na cultura
Todo Lacan?
Uma teoria lacaniana da cultura?
• Questões para psicanálise em extensão
Caso Joyce
Lacan com Joyce
Santo Joyce
Psicanálise em extensão: a arte e a interpretação
Arte e psicose
Moda e o discurso capitalista
LUGAR DA PSICANÁLISE NA CULTURA
Todo Lacan?
Uma obra tem fim? Se entendermos por “obra” a produção intelectual de uma pessoa, como é o caso de Freud e de Lacan, seu fim só pode ocorrer com a morte do autor, que sempre, até o último momento, pode produzir uma ressignificação total de suas idéias. Muito mais quando o autor reconhece na sua produção um ensino, o que quer dizer que ele se responsabiliza pela coerência lógica que a evolução desta no tempo impõe.
Foi na busca de uma coerência para a obra de Freud, ou seja, da lógica decorrente da evolução da investigação deste autor, que Lacan sugeriu um retorno a Freud, um retorno “ao sentido e não à letra” dos textos que compõem esta obra. Daí a leitura que Lacan fez de Freud onde, por exemplo, a “viragem dos anos 20” – com a conceitualização de pulsão de morte – ressignifica e reordena o produzido anteriormente; ou onde o texto de Freud “Três ensaios de uma teoria sexual” [1], escrito em 1905, tem de ser lido obrigatoriamente desde outro texto posterior “A organização genital infantil” [2] (1923) etc.
Fala-se do Lacan dos anos 70. A significação desta particularização de um período de seu ensino apontaria justamente à introdução de considerações, por parte de Lacan, que modificariam aspectos da lógica anterior que até então sustentavam seu ensino, já outros autores falam no “giro” de 1975.
Quais seriam os motivos que justificariam a localização destes pontos de ressignificação na obra de Lacan?
Poder-se-ia sugerir que em 1970, numa das aulas do Seminário “D′un discours qui ne serait pas du semblant” [3], a de 20 de janeiro 1971, e que depois seria escrita com o título “Lituraterre” [4], encontra-se o início de uma modificação das posições anteriores de Lacan. Este texto, além de fazer considerações sobre a escritura, afasta a hipótese de que ela fosse anterior à fala. Usando uma metáfora de Saussure, Lacan fez referência às nuvens que, ao se liquefazerem, mudam de forma, de “semblante”, precipitando-se em significantes e que fazem sulco no “real” da carne. Este precipitado é “matéria” em suspensão e é o que faz a erosão do significado. É isto o que vai constituir a “letra”, entre o “litoral” e o “literal”. Quer dizer, a partir destas articulações de Lacan, o Simbólico – onde um significante sempre requer outro significante, caracterizando um sistema binário que apontava a um inesgotável do saber – passou a ser revisto. Em 1971 Lacan começou a admitir que existe o Um, o que de fato formalizou pouco depois no Seminário “Ou Pire” [5], com “il Ya de l′Un ”. Com isso mudou a possibilidade de um esgotamento do Simbólico, pois este, desde estas novas considerações, passou a estar sempre condicionado pela letra, que é da ordem do redutível, isto é, produz fim.
A letra, assim formalizada, é então fonte de dois efeitos: um em relação ao saber e outro em relação ao gozo. Ou, dito de outro modo, um em relação à ordem do Simbólico e outro em relação à ordem do Real. Talvez por isso em 1972, no texto “L′Etourdit” [6], Lacan tenha apontado a impossibilidade de se encontrar o nó da significação e sugeriu que se procurasse apreendê-lo com recursos diferentes do Simbólico, utilizando-se elementos que tivessem características do próprio Real, que seriam a letra e a escritura. Já o “giro” de 75 é referido, pelo autor que o sugere, como efeito do Simbólico ter sido refutado em sua especificidade e unicidade, não pelas razões que apontamos acima, mas pela ressignificação que este teria recebido, na medida em que a tríade “Imaginário, Simbólico e Real” havia deixado de ser “axiomática” para ser “problemática”, fato que teria ocorrido em 1975 durante o seminário “RSI′′ [7] e que teria como conseqüência a dissociação do Simbólico em símbolo e sintoma.
Porém, seguindo as indicações anteriores, já nos anos 70 teria havido por parte de Lacan um desenvolvimento da noção de letra como fora do Simbólico. Embora essa noção – “suporte material do significante” – já estivesse presente em seu ensino desde 1956 (quando a introduziu no texto “A carta roubada” [8]) e encontremos ecos de sua categorização no conceito de “traço unário” (retomado de Freud em 1961 no Seminário “A identificação” [9]), assim como também no debate sobre a lógica do nome próprio (acontecido no mesmo Seminário), foi com a introdução do objeto a que Lacan começou a colocar em questão os limites do Simbólico e a apontar a possibilidade de um Real “fora do Simbólico”.
Entre as várias possibilidades de se apontar qual o principal conceito reformulado nos anos 70, poder-se-ia dizer que seria o conceito de Real. Real com a assinatura de Lacan, sustentado na noção de letra, de gozo, de alíngua, de parletre, de objeto a, cuja maior conseqüência seria a separação entre saber e gozo.
Depois de 1971, porém, mudou a abordagem destas questões que começaram a ser feitas principalmente a partir da inter-relação dos registros, com o recurso da topologia – a partir do nó borromeano, em especial. O nó apresentado neste Seminário como uma escritura fez com que esta noção estivesse sempre presente, a ponto de Lacan dizer: “No discurso analítico, só se trata disso, do que se lê...”
O esforço em elaborar a lógica da inter-relação dos registros tornou-se cada vez mais patente: na conferência pronunciada em 1974 por Lacan em Roma, que recebeu por título “A terceira” [10], no Seminário de 1974/75, culminando nos desenvolvimentos do Seminário de 1975/76 (“O sintoma” [11]), assim como nas conferências feitas em 1975 nos Estados Unidos [12].
Se antes dos anos 70 a relação entre o Simbólico e o Imaginário era entendida como o que produz o sentido, a partir da nova noção de “letra” constituiu-se uma noção de Real própria a este momento do ensino de Lacan, que ressignificou as relações entre este registro e os demais.
Se com a formalização do objeto a Lacan introduziu o sem-sentido na prática analítica, foi porém com essa nova especificação de real que pôde precisá-lo e o fez a partir do estabelecimento das relações deste novo Real com o Simbólico e com o imaginário. Modificações estas a tal ponto importantes, que no texto “L′Etourdit” formalizou uma separação entre sentido e significação, sustentada nas inter-relações entre os registros e que produziu a fórmula: “a interpretação é sentido e vai contra a significação” [13].
Uma teoria lacaniana da cultura?
O analista é um sintoma da cultura. Para que se entenda esta frase, primeiro é necessário definir cultura. Sem entrar no mérito das definições antropológicas de cultura e civilização, seguindo a Freud que sugeria entender-se a cultura como “superação da vida animal”, pode-se resumir a interpretação que Freud faz da cultura com uma outra frase: “A cultura é o estilo do recalque de um determinado grupo humano”.
Tese esta que decorre do fato de a psicanálise pensar que a socialização humana se daria unicamente em função da possibilidade de o homem postergar seus estímulos sexuais e agressivos, através da renúncia pulsional. A cultura vista assim se apresenta então como um sistema de interdições.
O que implica também a concepção de que a cultura tem um custo, custo este que Freud chamou de mal-estar, e que, segundo Freud, faz de todos nós inimigos da civilização.
A cultura é vista então por Freud como análoga ao Super-Eu, e a psicanálise mostra que o mal estar na civilização consiste em se obter uma satisfação da renúncia pulsional mesma, quer dizer, a psicanálise mostra que a condição humana leva o Sujeito a obter gozo pela renúncia do próprio gozo.
Assim o sofrimento do Sujeito, ao que Freud chamava de “infelicidade interna”, é ele mesmo uma forma de gozo, e, por esta razão, o homem quanto mais virtuoso for, quanto mais gozar de sua renúncia pulsional, mais severamente será tratado por seu Super-Eu. Assim, se a psicanálise ensina que o sofrimento é um dos nomes do gozo pulsional, também ensina que o sintoma neurótico é o que se insurge contra a exigência cultural de recalque.
Temos aqui o segundo termo da frase o “analista é o sintoma da cultura”, que é o termo sintoma, entendido como sendo a expressão da rebeldia do Sujeito diante da tirania da cultura.
Finalmente, o último termo da frase, que se refere ao analista. Lacan, dentro da lógica de seu ensino, deduz que o analista é conseqüência do conceito de inconsciente, o que quer dizer que se há cultura, é porque há recalque, se há inconsciente, é então porque há cultura. E se há analista, é porque há inconsciente.
Analista é um sintoma da cultura porque ele também é uma expressão da rebeldia do Sujeito frente a tirania da civilização, o analista é sintoma, porque ele é uma conseqüência do Sujeito frente ao recalque.
Lacan diz que a formação do analista são as formações do inconsciente, inconsciente que é conseqüência do estilo do recalque próprio à cultura. Poder-se-ia perguntar qual o modelo do recalque em uma cultura caracterizada pelo predomínio da ciência e pela dominância do capitalismo. Neste sentido poderemos falar de um mal-estar na civilização contemporânea, mal-estar que Lacan chamou de modos de gozo do mundo moderno.
E seria possível também se falar num sujeito moderno? Não é que nós, psicanalistas, temos justamente que lidar com o Sujeito que não consegue afirmar-se conforme o modelo moderno que não é mais o de um ideal, como foi na época de Freud, mas o modelo de um mercado comum, quer dizer, de um mercado que promete a realização de qualquer desejo a qualquer consumidor financeiramente habilitado?
Por isso a teoria da cultura não deveria ser mais vista só como uma realização substitutiva de desejos como sugeriu Freud, mas como efeito de uma complementação objetal através do consumo desenfreado de bens inúteis, conforme sugere Lacan.
Pois não seria que nosso tempo, chamado de pós-modernidade, se caracterizaria pelo desaparecimento de valores, e atualmente, o que decide as escolhas do Sujeito, seria somente a lei do mercado regido por uma ética do lucro?
Por isso existem sempre sintomas novos, que serão tantos quantas forem as estratégias da linguagem em criar novas ilusões narcísicas de completude, conforme a ditadura do mercado.
Foi por isso que Lacan propôs uma relação da psicanálise com as descobertas de Marx, pois, na visão de Lacan, a renúncia ao gozo que seria específica do trabalho, se articularia com a produção da mais-valia em um discurso.
Isto implicaria que um sujeito, a partir do particular do seu gozo, encontrasse na mais-valia, entendido por Lacan como equivalente ao objeto pequeno a, ou objeto mais gozar, a razão da sua entrada no mercado. Por isso Lacan reformulou a noção freudiana de um Mal-estar próprio à cultura, visto como efeito do recalque, entendendo que seja próprio da civilização, caracterizada pela ciência e pelo capitalismo, que um dos aspectos do gozo se encontre no consumo de bens.
É aqui que a clínica psicanalítica aponta para a emergência de novas formas do sujeito fugir ao mal-estar, pois dentro da linguagem, intensificada pelo poder da mídia, há sempre novos dispositivos identificatórios que oferecem ao sujeito novos modelos de evitar a angústia, através de ideais ready-made oferecidos em massa, para sujeitos cada vez menos diferentes.
Será que a globalização da cultura, os sonhos de um fim da história e o apelo a uma nova ordem mundial reformularia o lugar do Sujeito nos novos espaços regidos pelo mercado?
É este o debate no qual o analista está convocado pela cultura e que acontece não só por ser o analista ele também um sintoma da cultura que interpreta, mas, mais ainda talvez, por ser o analista a única esperança de modificação desta cultura. Pois a própria formação do analista o leva continuamente a questionar que, se não há uma cura para o mal-estar na cultura, o analista sendo ele mesmo um objeto do mercado situa assim uma ética que vai além do terapêutico e de um consumismo de bens que prometa uma completude que não há.
O analista, ao se comprometer com a causa do inconsciente, quase sempre se contrapõe à causa do mercado, já que, para cada um de nós, o que conta é somente uma verdade particular, ficção fabricada para responder ao mal-estar.
Por isso o analista é um sintoma da cultura, porque ao mesmo tempo em que ele é sua mais refinada produção, representa uma expressão da rebeldia à tirania desta civilização, que, devido às características da condição humana, faz o homem procurar a completude que não existe na religião, no consumo de bens, no amor, no saber, ou em termos freudianos, na ilusão.
A psicanálise da cultura é a denúncia de que a completude é uma ilusão, e aponta a uma posição onde o Bem supremo já não é mais a ausência da falta, porém a verdade particular de cada um que, por mais dolorosa e faltosa que possa ser, ainda assim cifra o destino de cada Sujeito.
QUESTÕES PARA PSICANÁLISE EM EXTENSÃO
Caso Joyce
No Seminário “O sintoma” [14] – contrastando com o anterior, “RSI” [15], e com o posterior, “L′insu que sait de l′une bevue s′aille à mourre” [16] – há uma referência que se poderia chamar de clínica: a referência que Lacan faz à pessoa e à obra de James Joyce.
Por que Joyce? Porque a obra do irlandês James Joyce inaugurou a era literária moderna e se constituiu em referência obrigatória na literatura – freqüentemente comparada à de Shakespeare, Dante ou Homero – produzindo, tanto quanto as destes autores, debates não somente no plano literário, mas também no filosófico, estético, e teológico, entre muitos outros.
O livro mais conhecido de Joyce, muito citado e pouco lido, "Ulisses", já foi comparado aos livros proféticos de Blake; e seu último livro, o hermético “Finnegans Wake”, comparado aos de Milton. Segundo Burgess “obras pintadas no vácuo do seio divino”. Ao lançar mão do mito – como em Ulisses, que é uma referência ao mito de Aquiles cantado por Homero na “Odísséia” (interpretação que Lacan rejeita) –, Joyce estabeleceu um paralelo contínuo entre a atualidade e a antigüidade e com isso inventou um método, fazendo com que depois dele a literatura de ficção o imitasse.
Além disso, os livros de Joyce são uma contínua referência à sua vida e paixões. Joyce conseguiu juntar vida e arte, e o assunto central dos seus escritos é um debate sobre o sentido da arte e o sentido da vida, o que ele realizou colocando na boca de seus personagens as mais diversas discussões sobre temas do nosso tempo.
No esforço de eliminar o velho e criar o novo, Joyce tomou-se a si mesmo como material dê observação, pois, acima de todos os sentimentos, queria ser um artista impessoal e paradoxalmente tentou fazer isso usando como referência unicamente sua própria biografia. Mas mesmo assim os livros de Joyce, e aí está sua arte, são sobre toda a sociedade humana, e por isto mesmo usam a linguagem comum, a despeito das regras semânticas, sintáticas e ortográficas. E Joyce fez isto de tal maneira que a linguagem acabou sendo o principal, senão o único, personagem de seus romances.
Joyce tentou com sua genialidade, pelo viés da linguagem como único instrumento, pelo viés da linguagem levada a seu extremo, apresentar uma completa recriação da vida em seu processo de ser vivida, uma recriação, pela linguagem, das relações dos seres humanos entre si e da percepção do seu íntimo.
O intuito de Joyce era testemunhar o homem comum, e a melhor maneira de conseguir este objetivo foi deixa-lo falar por si mesmo. E fez isto desde sua própria vida, num percurso que foi de “Dublinenses” até “Um retrato do artista enquanto adolescente”, de “Ulisses” até Finnegans Wake, demonstrando que a literatura não é apenas um comentário sobre a vida, mas ela pode ser, e é, parte integral da vida.
Os personagens dos romances de Joyce, como o homem comum, não podem pensar o que querem pensar, nem fazer o que querem fazer, pois estão presos a uma lei externa, estão sujeitados à linguagem. E isto tudo feito dentro de uma pretensão universalizante, havendo por parte de Joyce uma intenção de produzir uma sinopse completa das artes e das ciências, um modelo do corpo humano, e ainda, como se não bastasse, um manual de todas as técnicas literárias.
Joyce, que não ignorava a etimologia do seu nome derivado da palavra inglesa joy , que significa alegria (o mesmo se dando com Freud, na língua alemã), fez de seus romances, romances cômicos. Joyce escreveu para entreter, para celebrar a vida, para dar júbilo.
Para Joyce a história é uma desordem, uma imposição dos mortos sobre os vivos (tema de um de seu contos, que tem o título de “Os mortos”). A história é para Joyce um pesadelo do qual se está sempre tentando acordar, to wake, como Finnegans, querendo fazer entender que a vida é como um sonho.
Este homem tão pretensioso, tão ousado, tão exitoso, tão sintomático, conseguiu se superar usando a linguagem como instrumento de transcendência, e por este caminho mostrou que a linguagem, sendo comum aos homens, faz deles iguais.
Joyce gênio, Joyce santo, Joyce artista foi chamado por Lacan de “Joyce, o sintoma”. Sintoma de alguém parasitado pela linguagem. Neste sentido, Joyce é cada um de nós.
Lacan com Joyce
A obra de Joyce apresenta, uma seqüência que marca uma retroação significativa, quer dizer, pode-se encontrar nos primeiros textos justificativas dos últimos ou, a partir dos últimos, pode-se ressignificar os primeiros.
Assim, "Finnegans Wake", que leva a linguagem às suas últimas conseqüências, talvez já pudesse ser previsto em “Ulisses” e certamente o reordena. O mesmo com "Ulisses", que deve seu entendimento a “Retrato do artista quando jovem”, e este ao nunca publicado “Stephen Hero”.
A mesma coisa quanto à lógica interna de cada obra de Joyce, na qual vai havendo uma ruptura progressiva com os padrões clássicos da escrita e uma transgressão progressiva da semântica, da ortografia, enfim, de todos os parâmetros que antes de Joyce regiam a produção literária. O que o levou a isto? O que pode Joyce ensinar a um psicanalista?
Lacan, em 1975 em seminário “O sintoma” [17], apontou que Joyce ilustra de maneira exemplar o funcionamento do Nome-do-Pai, que neste momento de seu ensino está no plural, ou seja, “os” Nomes-do-Pai, e que no Seminário daquele ano referem-se a tudo o que efetiva a função de “amarração” topológica do quarto termo do nó borromeano, tal como havia introduzido na última aula do Seminário anterior – “RSI” [18].
Desde que introduziu os nós borromeanos – como maneira de investigar a lógica da inter-relação entre os registros – até o Seminário “RSI”, Lacan trabalhou com o nó borromeano de três termos. Mas no decorrer deste Seminário começou a formalizar o nó borromeano de quatro termos. A razão desta substituição foi devida ao fato de que não existiria maneira de se estabelecer topologicamente diferenças entre os registros. Somente ao nomear de maneira diferente cada um dos elementos do nó, pode-se sustentar as diferenças entre eles. Lacan introduziu então o termo “nomeação” como o quarto elemento, que então permitiria a amarração dos demais.
O que Lacan pretendeu demonstrar em seu Seminário sobre Joyce é de que maneira este quarto termo do nó, que estava então neste momento identificado ao Nome-do-Pai, pode ser “suprido”. Lacan tenta demonstrar através de Joyce de que maneira esta suplência do Nome-do-Pai pode realizar-se, e que no caso particular de Joyce se realizou mediante três operações: o “sinthoma”, o “fazer se um nome” e o “Ego de Joyce”.
Há a suposição de Lacan de que a obra de Joyce evitou que ele se tornasse clinicamente psicótico. Se no texto “Questão preliminar...” [19] Lacan havia colocado o mecanismo fundamental da psicose na “foraclusão” do Nome-do-Pai, no seminário “O sintoma”, ao deslocar os Nomes-do-Pai para a função de amarração, assimila-o ao quarto termo do nó, e aponta que a ausência deste permite delimitar o lugar em que algo possa ser colocado no seu lugar (Deve-se considerar o mecanismo kleiniano da “reparação” como similar?).
No começo do Seminário sobre Joyce, Lacan abordou primeiro a questão do quarto termo do nó borromeano, para só depois falar em Joyce. Começou por Stephen, personagem central do “Retrato de um artista quando jovem”; porém o fez suprimindo a distância que poderia haver entre Joyce e seu personagem, tomando-os como se fossem um só, chegando a dizer: “Joyce, quer dizer, não Joyce, senão Stephen”, o que coloca frente a questão da psicanálise aplicada e da sua validez.
Por outro lado, Lacan deixou de aprofundar a questão das Epifanias, central na compreensão da obra de Joyce; soube delas através de Jacques Aubert, eminente joyciano presente em seu Seminário. De importância fundamental, as Epifanias – que receberam de Joyce este título litúrgico – eram pequenas composições, diálogos triviais que o escritor recolheu em sua juventude nas ruas de Dublin, que tinham um caráter de claridade e de revelação e que permaneciam, porém, como enigma. As Epifanias eram testemunhos de uma experiência interior qualificada pelo próprio Joyce como de êxtase, mas que em sua trivialidade chegavam perto do sem-sentido. Para o psicanalista, sem dúvida, estas “formações do inconsciente” seriam da mais alta relevância.
Lacan privilegiou, porém, a idéia de que os textos de Joyce, tomados como documentos psicopatológicos, seriam efeitos de uma carência paterna – causa de sua psicose (Será que a pouca importância de John Joyce, o pai fracassado de Joyce, pode levar à conclusão sobre seu caráter foraclusivo em James, justificando um diagnóstico de psicose?). O mesmo se dá em relação a Lucia, filha de Joyce, esta sim clinicamente psicótica (foi paciente de Jung). O fato de James Joyce supor que ela fosse telepata fez com que Lacan invocasse, como uma das justificativas de seu diagnóstico de psicose para o escritor, a existência do fenômeno psiquiatricamente descrito como “palavras impostas”.
Também a descrição que Joyce faz de uma surra que levou de uns amigos, presente no romance “Retrato de um artista quando jovem”, retomada na última aula do Seminário “O sintoma”, é articulada por Lacan como determinando a relação de Joyce com seu corpo. Este episódio da vida de Joyce foi por ele descrito como tendo o efeito de fazê-lo “sentir que seu corpo caía como uma casca”. Lacan deu uma importância fundamental a este acontecimento e sugeriu que ele produzira em Joyce uma relação alterada com o próprio corpo, fazendo com que ele sentisse seu corpo como alheio.
Se Lacan define o Eu como a “idéia de si mesmo como corpo”, precisamente o Eu de Joyce caracterizava-se por uma alteração deste funcionamento, o que Lacan formalizou (utilizando-se do nó borromeano) como o anel do Imaginário escapando, sto é, não articulado-se aos outros anéis (Real e Simbólico). Por isso haveria no caso de Joyce a necessidade de produzir uma “nominação imaginária” do Eu.
Esta nominação imaginária do Eu de Joyce seria aquilo que faz “suplência” à ausência de um “moi”, o qual depende do Nome-do-Pai e da função fálica, e que é suprido mediante este ego (não é “moi ”) particular, que escapa como tal à dimensão imaginária. Ë o que se convencionou chamar de “Ego de Joyce”, e para Lacan é o que faz de Joyce um “desabonado do inconsciente”, pois permitiu a ele realizar algo novo no nível da língua na sua articulação com a linguagem, produzindo uma escritura que, carecendo de significação, a liberou do imaginário.
Dentre os vários nós com que Lacan escreve, no Seminário “O sintoma”, a estrutura de Joyce, o nó que exemplifica a liberação do Imaginário decorre de um “erro”: o anel do Simbólico, que deveria ter passado por baixo do anel do Real para que o nó fosse borromeano, passa por cima deixando solto o anel do Imaginário. Lacan demonstra a possibilidade de se restaurar a amarração borromeana através de uma quarta corda que, ao reparar o “erro”, impede que o Imaginário fique solto.
Em Joyce a escritura mostra uma dimensão além do Imaginário, solidária com a falta particular da nomeação imaginária, na medida em que o Nome-do-Pai foi suprido de uma maneira particular.
Nas conferências que realizou no mesmo ano nos Estados Unidos, Lacan disse: É suspeito fazer do inconsciente a chave da explicação da arte; mas no Seminário “O sintoma”, referindo-se à arte, e ele o disse também nos Estados Unidos, propôs: “é mais adequado explicá-la através do sinthome”.
O sintoma escrito como sinthome difere do anterior, formação do inconsciente, e opera como suplemento. O sinthome aponta ao Real do sintoma, Real este constituído pela sua exclusão do Simbólico e que aponta o gozo, fora do sentido. O sintoma, além de mensagem cifrada, é efeito do sinthome, meio do sujeito organizar seu gozo.
Para Lacan, Joyce é o sinthoma, o santo-homem e outras coisas mais. Se no Lacan anterior aos anos 70 a psicose podia ser entendida como a ausência da distância entre os significantes – o que ele no Seminário XI, "Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise” [20], chamou de holófrase –, ela é causada pela foraclusão, que impede a instauração da falta, que por sua vez é a causa da separação dos significantes, produzindo o Um da psicose.
Com a formalização da letra como fora do Simbólico, sobredeterminando-o, o que começou a ser elaborado com a fórmula Y a d'l'Un, impõe-se a idéia de que haveria uma “universalização” da holófrase e por conseqüência da psicose? Com isso, não haveria uma dimensão universal para a função da foraclusão que seria própria à ordem do significante como tal?
A aposta de Lacan em Joyce gira em torno da procura da resposta do sintoma como real, como fora do sentido, como gozo. A obra de Joyce testemunha o que já foi considerado como fundamental das elaborações de Lacan dos anos 70: a separação entre o Outro e o gozo. Ou, dito de outro modo, a relação entre o Simbólico e o Real.
Santo Joyce
Em alemão, a palavra Schuld significa, ao mesmo tempo, culpa e dívida. Esta imbricação de significados, própria às línguas germânicas, repercute na clínica psicanalítica ao permitir articular fatos como remorso e auto-recriminação, juntando-os com o que Freud chamou de “infelicidade interior contínua”. Estes acontecimentos encontrariam uma explicação na metapsicologia freudiana, no momento da formalização da culpa como um tipo especial de angústia, aquela perante o Super-Eu.
Super-Eu que, por cumprir a função de integrar as diversas instâncias psíquicas com o mundo externo, é o elo do Sujeito com a cultura e seus avatares, constituindo o modelo de um ideal para o Eu, e que deve ser levado em conta em todas as situações psíquicas. A angústia diante desta instância, que conhecemos com o nome de culpa, tem portanto um lugar central em qualquer manifestação do espírito.
Por isso Freud generalizou que o destino humano é influenciado pela culpa, ou melhor, pela dívida, tema desenvolvido por Freud no texto “Mal-estar na civilização” [21].
Lacan, por sua vez, formalizou esta “dívida fundamental” como conseqüência da causação do Sujeito, e a denominou “falta no Outro”. Esta falta, que é decorrente da estrutura do significante, faz com que o Sujeito não a tenha contraído ativamente, embora, mesmo assim, tenha que pagá-la.
Por isso, esta dívida, que foi articulada por Freud como o custo da civilização, é cobrada na forma do “mal-estar”. E esta situação, destino de todo humano, é inerente à cultura e, em última análise, decorre do desejo proibido ao falante, do incesto e do parricídio.
E é esta Lei originária, a da proibição ao incesto e ao parricídio, que origina a transgressão, a qual, no dizer de São Paulo, “faz o pecado”.
É o universal do desejo do incesto que, pela sua proibição, está na origem da angústia, que se expressa como consciência moral, a qual é herdeira do Complexo de Édipo.
Por isso esta angústia, na sua face de culpa, diferindo da angústia causada por uma ameaça Real, é simbólica por excelência. Fato este que, dentro do referencial teórico lacaniano, se expressa como conseqüência do processo de constituição do Sujeito pelo Outro.
E, como o Outro é o lugar dos significantes, será na fala que se procurará uma saída para a repetição infinita da dívida simbólica. E como a fala implica a relação do Sujeito com o Outro, é nela que se mostra sua função, que é a de tentar permanentemente redimir a falta, efeito da dívida.
E este fato, efeito da escravidão do humano à linguagem, se impõe com ainda mais evidência quando se trata da escrita. Diante da pergunta sobre o porquê desta expressão humana, entende-se, pela psicanálise, que é pelas palavras escritas, dirigidas sempre ao Outro, que o autor tenta redimir sua dívida.
Desde sua origem, a escrita, principalmente nos textos de caráter religioso, do qual a Bíblia é um exemplo, serviu para que os autores, explorando a relação do Sujeito com o Outro que o determina, ao utilizar o recurso de negar o próprio gozo, louvassem o de Deus, redimindo desta forma sua dívida.
Há textos também que, situados numa posição avessa à anterior, como foi o caso de Schreber, onde o autor se deixou invadir não pela angústia diante do Super-Eu, mas pela própria realização dos seus ideais, o que ocorreu por meio do delírio, e por isso escreveu, não para dar testemunho do gozo do Outro, mas se deixou invadir pelo gozo de Deus, substituindo com isso a ausência do próprio desejo.
E entre estes dois extremos está todo um exército de escritores, pagando com o trabalho de sua pena a pena de existir, procurando por intermédio deste recurso evocar, no leitor, o testemunho do seu próprio gozo.
Pois quem, ao escrever, não tenta quitar sua dívida para com o Outro? Não seria que o escritor escreve para um Grande Leitor, que abate a cada letra de seu escrito uma parcela de sua dívida, tanto maior quanto mais vasta e profunda for sua obra?
E, se assim fosse, o que dizer da dívida que motiva um texto como o de James Joyce? Que dizer deste texto em que o gozo da escrita se esgota em si mesmo, sem que o autor procure o reconhecimento do sentido da sua obra no leitor, que colocado usualmente no lugar de guardião da significação decide o valor da dívida?
É Lacan o culpado por Joyce ser Stephen. Ou seja, foi Lacan quem afirmou que Stephen, criação artística de Joyce em “Stephen Hero”, e que depois se consagra como Stephen Dedalus em “Retrato do artista como adolescente”, é o alter ego de Joyce.
Isto faz da obra de Joyce uma autobiografia, o que é um fato discutível, mas, para Lacan, Stephen é o Joyce que Joyce imagina ser, e do qual ele mesmo não gosta. E Stephen, também segundo Lacan, é Joyce decifrando o seu próprio enigma, com dificuldades, pois, ainda segundo Lacan, Joyce acredita em todos os seus sintomas.
Ao se entender a fala de Stephen no relato feito no “Retrato...” como sendo a de Joyce, deduz-se que a culpa foi uma das características mais marcantes na sua formação como artista. Desde o início desta possível autobiografia, há um pedido de perdão sempre presente, correspondido com o relato de infinitos castigos, sendo que em um deles, exemplo paradigmático, Stephen teria seus olhos arrancados por uma águia (alusão ao Prometeu do mito grego, que se associa ao segundo nome de Stephen, Dedalus), caso não pedisse perdão.
Continua em todos os capítulos do “Retrato...” uma referência constante à culpa, sempre aparentemente causada por motivos banais, como em uma situação relatada por Stephen, em que por discordar de um professor que afirmava que Byron foi o maior dos poetas, viu-se invadido por uma forma muito intensa de culpa, experimentando sentimentos de inferioridade e sensações de indignidade por “sua fraqueza física e entusiasmo fútil, o fazendo ter aversão a si mesmo...”.
Pode-se ainda incluir a culpa que Joyce apresentava pela vergonha que sentia em relação a seu pai e suas bebedeiras, porém, naquela época de sua vida, Stephen relata principalmente as culpas ligadas ao sexo que, perante o rígido código da igreja católica, expunha Joyce à possibilidade da “condenação eterna”. Daí a indicação constante feita por ele ao medo do inferno, exemplificando a clássica relação da culpa com o castigo.
Mas Joyce não foi Dostoievsky, e não pagou sua dívida romantizando a culpa, mas tentando escapar dela. Para isso propôs uma salvação pela arte, e sua pretensão foi “forjar na forja da sua alma a consciência incriada de sua raça”. Foi no decorrer de sua produção que esta pretensão tomou forma.
No texto que segue ao “Retrato...”, o polêmico “Ulisses” , mesmo ainda fazendo referência a situações onde se podem deduzir sentimentos de culpa objetivos, transgredindo a linguagem, Joyce começou a cumprir sua promessa, e pode-se dizer que aí começa a cometer incesto com a língua e parricídio com a semântica.
No capítulo de “Ulisses”, “Circe”, Joyce-Stephen, assediado pelo fantasma da mãe, que pede para ele se arrepender e se reconciliar com Deus, depois de pedir para ser deixado em paz e não ser atendido, despedaça o candelabro do bordei onde se encontrava, produzindo uma escuridão, símbolo da cegueira, e que não mais será resultado do castigo de quem teve seus olhos arrancados pela águia, como na ameaça relatada no “Retrato...”, mas símbolo de um renascimento sem culpa.
Este crescente abuso da metáfora, esse exagero do Simbólico levado ao extremo, este cúmulo do sentido, derivou, na seqüência da produção de Joyce, em um sem-sentido significativo produzido em sua obra final “Finnegan′s wake”.
E foi aqui que Lacan encontrou Joyce. Com o Joyce de depois de “Ulisses”, que após “Finnegans...” não deixou mais língua para escrever.
E por isso não haveria mais culpa para ser expressa? Ou este texto seria a forma particular de Joyce elaborar sua culpa?
O que Lacan apontará, tomando a produção joyciana como sintoma, é que há uma falha na estrutura de Joyce que acomete seu parletre. Para Lacan seriam as epifanias (nome que Joyce deu a uma série de vivências inefáveis que dominaram um período da sua vida, e que estão na base de seus contos e livros) a prova clínica desta falha na estrutura. Desde já, conta com a presença de enigmas excluindo o sentido, sendo as epifanias enunciações elevadas à potência do Real.
Joyce, com “Finnegans...”, abusa deste sintoma, demonstrando o inconsciente fora do sentido. Sua arte responderá ao desejo de “fazer-se ser um livro”, porém o que fez Joyce ser diferente de Dostoievsky, foi que introduziu o gozo da letra na literatura, ultrapassando o sentido como única maneira de remissão da dívida, ao passo que Dostoievsky buscou o sentido como o gozo, moeda com que pagou a sua.
Não que na literatura antes de Joyce não houvesse gozo da letra, mas é só a partir de Joyce que a literatura transgride o sentido como regra da produção do artista. O Outro que faz o texto de Joyce não é o Outro regulado pela razão e pela significação lógica, é um Outro do corpo do significante, que se regula pela sua materialidade, bem como pelo aluvião de significações, tantas quantas forem possíveis pelos códigos que registram suas possibilidades, todos eles transformados por Joyce em cômicos joguetes polissemânticos.
Daí que Lacan diga, ao justificar o título de seu Seminário dedicado ao estudo do autor, “dou a Joyce, ao formular este título, Joyce o sintoma, nada menos que seu nome próprio”, querendo dizer com isso que o nome de Joyce, graças à sua arte, se transformou no de um inventor em literatura.
Se, seguindo a Lacan, o Super-Eu pode ser pensado como mandato de gozo, vertente do Super-Eu materno arcaico, em vez da proposta freudiana de pensá-lo como imperativo categórico de proibição, essa leitura lacaniana do Super-Eu talvez encontre em Joyce sua melhor exemplificação.
A psicanálise ensina que a dívida é fundante da subjetividade, e por isso faz da culpa um universal. E é tentando completar esta falta no Outro que se elaboram respostas, se criam as ilusões, e os recursos literários que permitem nomeá-las.
Diante deste pecado da estrutura, que é o do Outro não ser completo, a literatura dá nomes ao gozo, para que ilustre a miragem de que o ser pode ser sem falta, porque eles podem ser escritos.
Culpa, sendo este chamado que sinaliza que o Outro deve ser completado, faz da literatura a testemunha mais antiga dos modos de exercer esta ilusão. Joyce é a desilusão do modo de gozo da literatura condicionado unicamente pelo sentido, nome do inferno, segundo suas razões, pois o sentido é um modo de gozo que reduz a potencialidade de outros gozos, produzindo uma limitação da língua e do dizer.
Na opinião de Lacan, a arte de Joyce é o que poderia libertar a literatura do sentido. E por que ele pode fazê-lo?
Se, para Freud, a literatura era apenas um tipo de sonho, Finnegans wake é o despertar do sonho do sentido. Na sua escritura se trata unicamente da matéria da letra, fazendo jogos de palavra que saem fora do terreno do chiste. Joyce escreve de uma maneira que realiza o Simbólico, tirando a linguagem do seu campo específico, deixando do sentido apenas um vestígio, sempre como enigma.
E por quê? A explicação que Lacan sugere é que o Eu de Joyce, no caso nomeado explicitamente como Ego, equivalente do registro do Imaginário, não comparece à amarração borromeana. Condição esta que é uma dedução de Lacan a partir do relato da reação de Stephen a uma surra que levou de seus companheiros, no qual Joyce conta que, em vez de sentir raiva, sentiu sua pele cair como se fosse a casca de uma fruta madura.
Daí que a arte de Joyce seria a suplência a esse não-anodamento original que, por comprometer a articulação do Imaginário e do Simbólico, expulsa o sentido.
A arte de Joyce é então o que Lacan chamou de seu sinthome , ou seja, seu gozo condicionando o sentido como sintoma. Daí que sua Obra, mesmo que biográfica, menos vale pelo sentido do que pela letra.
Haveria culpa na letra, ou a culpa serve apenas para o desejo colocar obstáculo ao gozo?
Lacan, no Seminário XVIII, “De um Outro a um outro” [22], redefine a noção freudiana de “mal-estar” como de sendo a renúncia ao gozo. E é esta a função da culpa, e da razão de ela se perpetuar: a culpa goza de si mesma. A culpa implica procurar um sentido que limite a possibilidade do gozo imediato, ou seja, da letra.
O leitor de Joyce, horrorizado pelo gozo que a imediatez da letra pode evocar, busca no sentido uma referência ao Outro que limite seu gozo. Assim, Joyce, como um psicanalista, fez de seu texto um produtor de sintomas no leitor, fazendo emergir a verdade singular de cada sujeito, seu próprio sintoma. Verdade tanto maior por ser o sintoma a maneira pela qual cada um goza de seu inconsciente.
Psicanálise em extensão: a arte e a interpretação
A relação da psicanálise com a literatura, o cinema e outras manifestações artísticas, compromete o analista diante da especificidade da psicanálise em relação a outros objetos, que não a clínica analítica.
Dentro da orientação lacaniana, só há uma aplicação para a psicanálise, que é a clínica, não se considerando a possibilidade de uma psicanálise aplicada, que seria próprio a uma hermenêutica. Isto não quer dizer que não se possa fazê-lo, o próprio Lacan o fez, porém subvertendo a noção de psicanálise aplicada e propondo dividi-la em “psicanálise em intenção”, que seria a prática clínica, e “psicanálise em extensão” que seria o equivalente à psicanálise aplicada.
Para a obra de arte não há uma escuta possível, podendo-se porém identificar padrões, e aplicar-se o saber analítico a eles, ato este que nos aproxima do discurso universitário e do discurso do mestre, mas jamais do discurso analítico.
Tomando-se um filme como exemplo de arte, deve-se indagar de que forma a orientação lacaniana impõe, dentro do que se convencionou chamar de “retorno a Freud”, o que a arte significa para a psicanálise. Foi através da obra de Joyce que Lacan aprofundou a questão, e o fez no Seminário XXIII, “O Sintoma” [23] de 1976.
Freud inaugurou a abordagem da arte pela psicanálise com um estudo sobre o conto de Jensen, “Gradiva” [24], continuando depois sempre manifestando interesse pelo homem de gênio, e com a arte, na medida em que ela se relaciona com as produções do inconsciente.
Na interpretação que faz Freud da produção artística, o artista, através de sua obra, facilitaria ao leitor realizar fantasias, que sem a intermediação da arte não conseguiria. O leitor, ao se identificar com o personagem de um romance, efetuaria também os mesmos atos que o herói, conseguindo uma realização fantasmática dos seus desejos, intermediado pela técnica do autor.
Em “Escritores criativos e devaneio” [25], Freud desenvolveu a idéia de que o artista seduziria o leitor com sua própria fantasia. A proposta de uma estética psicanalítica, estaria na idéia de que o escritor ao seduzir o leitor, excitando-o, abaixaria suas resistências em relação àquelas fantasias que normalmente produziriam angústia.
O leitor identificando-se com o protagonista conseguiria realizar suas fantasias, produzindo com isso um ganho libidinal, que seria a motivação da leitura.
A literatura teria evoluido superando o recalque social, por isso houve um D.H. Lawrence, um Henry Miller etc., que seriam os escritores ditos pornográficos, todos eles proibidos no início de suas carreiras por confrontarem seus leitores com a realização de fantasias sexuais, proibidas.
Mas não só os autores permitiram a realização de fantasias sexuais, como também das agressivas. No caso de Dostoievisky, um dos autores analisados por Freud, a fantasia era o parricídio, e no de Sófocles, outro autor citado por Freud, Édipo realizaria as duas fantasias proibidas.
O modelo psicanalítico da interpretação da arte aponta que a função da arte seria facilitar o levantamento do recalque, sendo a concepção de Freud da arte simples mas eficaz, embora centrada somente na literatura.
Seria possível estender essa lógica à arte pictórica, como Freud fez com a escultura de Moisés feita por Michelangelo. Para Freud, nesta escultura, está claro a expressão do poder e da ira contida de Moisés, com o que a pessoa se identificaria na contemplação da escultura, realizando inconscientemente um gozo, que de outra forma não conseguiria.
Pode-se também fazer uma comparação entre as diversas manifestações artísticas, e sugerir que as artes plásticas se antecipam em relação à literatura. Com o Impressionismo, por exemplo, houve uma ruptura, produzindo a possibilidade de uma suportabilidade da angústia causada pelas diferenças da captação da realidade. Imagine-se um pintor impressionista na Grécia antiga pintando um Apolo desfocado. Naquela época havia a necessidade de reproduzir-se o modelo perfeição, sendo esse o critério da arte da época.
Já no Impressionismo, há uma suportabilidade maior da angústia, onde cada um pode manter sua propria idiossincrasia de percepção da realidade. Com Picasso, essa possibilidade atingiu o ápice, podendo-se pintar sem respeitar até mesmo as dimensões, pois nos quadros de Picasso é possível uma mesma pessoa olhar para dois lados diferentes ao mesmo tempo.
Picasso, ao não respeitar a dimensão espacial, impõe ao observador a vivência do corpo despedaçado. Articulando a arte pictórica ao Estádio do Espelho, é possível pensar-se a arte como possibilidade do sujeito suportar a angústia do corpo despedaçado, o que pode ser um guia para se pensar a articulação das manifestações artísticas entre si.
Trazendo essa idéia para a literatura, pode-se fazer um paralelo com o anterior, pois nela também há um classicismo inicial, onde o estilo de escrever responde às leis da gramática e da semântica, havendo uma coerência lógica e uma ordenação temporal que respondem às normas convencionadas.
O autor que rompeu com isso, foi Joyce. Por isso pode-se dizer que Joyce é o Picasso da literatura, pois é como se Joyce também colocasse o leitor olhando para dois lados ao mesmo tempo.
Quanto ao cinema, se o pensarmos freudianamente, ele pode ser interpretado do mesmo modo que um sonho, onde a interpretação aponta ao desejo recalcado, que se expressa simbolicamente. A interpretação que se faz de um filme seria a do desejo que se expressa nele, e a interpretação visaria estabelecer a relação entre o manifesto e o latente.
O estudo da interpretação não se iniciou com a psicanálise. A interpretação surgiu como comentário dos livros religiosos com o nome de hermenêutica, ao se fazer a pergunta sobre qual o sentido das escrituras sagradas, sendo que os modelos de interpretação serviam apenas para garantir a verdade de uma doutrina. A hermenêutica hoje se faz presente pelo viés da filosofia, como a ciência, do “sentido”, estabelecendo uma relação “fixa” entre “a” e “b”, ou entre latente e o manifesto.
Freud foi um escritor que abusou desse procedimento, chegando mesmo a estabelecer um simbolismo fixo, que ele chamou de “a simbólica”, que estabelecia relações fixas entre certos símbolos e seu significado. Por exemplo, guarda-chuva simbolizando sempre o pênis, túnel significando sempre vagina.
Ao se tomar uma obra de arte pictórica, fica a questão sobre o que significa interpretá-la. Como trabalhar uma produção artística sem passá-la pela fonetização?
Este problema mobilizou Freud, e o segundo retorno a Freud seria neste ponto útil, pois indaga da passagem da imagem para a palavra. Freud inicialmente respondeu a esta questão sugerindo a interpretação do sonho como “rebus”, como uma montagem de figuras e palavras a ser decifrada. Num segundo momento propôs que sonho fosse interpretado como um hieróglifo, que não são ideogramas, mas sim ligados à fonetização da imagem.
Lacan também privilegiou a escrita em detrimento da língua perguntando-se qual a estrutura da linguagem, ao que respondeu que a linguagem tem estrutura de “alíngua”. Nesse momento do ensino de Lacan modificou-se o modelo da interpretação que produzia sentido, pois ao se dar um sentido, ele remete necessariamente a um outro, produzindo efeitos infinitos de linguagem.
Esse abandono da interpretação centrada no sentido, foi substituído por uma interpretação cujo modelo não é a significação e possibilitou a Lacan propor o fim de uma análise.
Com esta noção de interpretação, como interpretar uma obra de arte? Como interpretar o gozo da arte sem cair no sentido?
Lacan em nenhum momento se furtou a interpretar a arte, porém seu modelo de interpretação é diferente da interpretação freudiana. Por exemplo, no texto: “Mito individual do neurótico” [26], Lacan recupera algumas recordações infantis de Göethe, que estão na sua autobiografia “Poesia e Verdade”, e as analisa como se fosse a produção de um paciente, e diante das associações que se seguem às recordações evocadas pelo autor, propõe uma interpretação.
Outro autor sempre presente nos textos de Lacan é Shakespeare. Lacan não interpreta, como Freud fez, o desejo de Hamlet e da mesma maneira como fez no Seminário “A carta roubada” [27] mostra como funciona a lógica da produção da significação.
Lacan utilizou este recurso porque tal qual Freud pensava que o artista se antecipa ao analista, e por isso ele percebe coisas que somente depois o analista pode estabelecer. Nesse sentido Poe teria se adiantado a Lacan na percepção de que “lettre”, letra em francês, ou carta, só adquire sua significação nas relações com os personagens que fazem referências a ela, porque ela não tem significação em si mesma.
Outro autor interpretado por Lacan é Gide [28], também não entrando no mérito de sua produção e sim deduzindo de sua autobiografia as relações conformativas da sua subjetividade.
Se Freud no estudo da “Gradiva” de Jensen entrou dentro da lógica do texto e correlacionou o desejo de Jansen com sua biografia, ele apenas tomou uma produção fantasmática do autor, sem entrar na relação dessa fantasia com a sua história infantil.
No entanto, com Dostoievsky, Freud faz isso, abordando-o tanto pela sua produção como pela sua biografia, onde a repetição do tema do parricídio é correlacionado com suas crises de epilepsia, que segundo Freud equivaleria ao desejo recalcado de matar o pai. Freud ainda diria que Dostoievsky se cura dessas crises quando consegue escrever, ou seja, quando passa para a literatura a fantasia de matar o pai.
Porém Lacan abandona a interpretação do significado e o analista na posição de objeto “a”, não mais aponta o sentido dos sintomas É dessa época o texto de Lacan sobre o livro de Marguerite Duras, “O deslumbramento de Lol V. Stein” [29], abordado desde a noção de objeto causa do desejo, ou objeto pequeno a , já não havendo mais busca do sentido. Lacan diz que Marguerite Duras, como todo artista, se antecipa ao analista, e que ela havia deduzido a função do objeto a.
Lacan faz o mesmo com um texto de Wedekind, no caso, uma obra de teatro, a “Sagração da Primavera” [30], porém foi quando abordou a Joyce que as idéias sobre a produção artística amadureceram e o centro da questão da arte passou a ser a de Joyce.
Joyce sempre se achou predestinado a ser alguém que ia modificar a língua inglesa, alguém que ia redimir a sua raça, alguém que ia modificar a situação da Irlanda no mundo. Como exemplo, aos vinte anos, Joyce vivenciou certas manifestações que ele denominou de “Epifanias”, termo religioso que se refere a uma manifestação divina, existindo epifanias em todas as religiões, particularmente na tradição cristã, como mostra a festa dos reis magos.
Joyce tinha tanta certeza de que aquilo teria tanto valor para ele, que aos 24 anos decidiu depositar as Epifanias na biblioteca de Alexandria, para que elas pudessem ser lidas daqui a mil anos, mas se contentou em deixá-las na biblioteca de Dublin, onde estão até hoje.
Como exemplo da interpretação literária, situam-se as dos contos de “Dublinenses” e a dos livros que se seguiram, “Ulisses”, e “Finnegan′s wake”.
Segundo algumas das interpretações, “Ulisses” seria uma paródia da Odisséia de Homero, e cada capítulo do Ulisses corresponderia a um capítulo da Odisséia. Desde este ponto de vista a arte de Joyce consiste em trazer o épico, o mítico para a vida comum, e desde esta interpretação, todos somos Ulisses que tentamos retornar à pátria. O mito do Ulisses é o mito do retorno, no qual o herói tenta retornar à pátria – onde Penélope lhe espera – mas encontra percalços no caminho.
Todos, depois de nascermos, também estariamos retornando à pátria, e Penélope nos espera, no percurso encontramos percalços, porém mais parecidos com os que Joyce translada de Homero para seu “Ulisses”, que são, tavernas, bares, prostíbulos, lugares que o homem comum freqüenta. Joyce sempre escreveu a vida como um todo e aí entra sua arte, uma arte da condensação, onde fugindo ao sentido encontra o cúmulo do sentido.
Interpretar é dar sentido? “Finnegan′s wake” é uma obra que foge ao sentido e é composta por neologismos. Ao mesmo tempo é uma obra que é o cúmulo do sentido e resgata a história universal inteira. Pode-se encontrar de tudo nessa obra colocado como enigma. Esse é o desejo de Joyce: me decifrem, ele é a esfinge em vez de ser o Édipo.
“Finnegans wake” tem todos os sentidos, ao mesmo tempo que não têm nenhum. Desta maneira como interpretá-lo?
Existem temas que se repetem, como por exemplo o do exilio. Por exemplo no conto “Os mortos”, Joyce introduz o tema do exílio, que se repetirá nos seus livros posteriores, , apontando à uma materialidade significante que. vai além dos fatos em que eles estão incluidos.
“Os mortos” refere-se à uma reunião familiar, onde duas professoras de música solteiras recebem pessoas da família e convidados, para uma festa, e o conto não tem nada além disso; pessoas comuns, coisas banais, que tanto podem entediar, como elevar, dependendo do estado de espírito com que se receba isso.
Em seguida há um baile, um jantar, um discurso, e ao terminar a festa, no momento em que está descendo a escada, ouve-se uma melodia, Conroe, o protagonista do conto (o próprio Joyce, segundo os interpretes), pessoa sensível, percebe que esposa está diferente, a acompanha até o hotel e pergunta a ela o que está acontecendo. E ela conta a recordação sobre a pessoa que tinha se deixado morrer em relação a ela. Termina aí a história. Qual o seu significado do conto?
Segundo algumas interpretações, há comentadores que. dizem que o símbolo central do conto é a neve pois, ele começa com a neve e termina com a neve. Os comentadores dizem que este conto é uma contraposição de frio e calor, do fogo da recepção e da cordialidade irlandesa contraposto ao frio, contrapondo-se então vida e morte, frio e calor, fogo e neve. A frase seguinte, por exemplo, recebeu várias interpretações diferentes:
“A neve tornara a cair, olhou sonolento os flocos prateados e negros que despencavam obliquamente a luz do lampião. Era tempo de preparar a viagem para o oeste” [31].
O que quer dizer preparar a viagem para o oeste? Seria a morte, o poente, ou o oeste é onde fica Galway, de onde veio Nora? Só Joyce sabe o que ele quis dizer. Nós só podemos interpretar em função de significantes contrapostos dentro de um sistema de linguagem.
Ellmann [32], o biógrafo oficial de Joyce, interpreta a metáfora “oeste” como não tendo nada de morte. Outros não, dizem que é uma metáfora da morte. Nós nos divertimos com isso, e na verdade esta foi uma das previsões de Joyce, que os críticos iriam se ocupar dele pelos próximos trezentos anos.
Joyce brinca com a intencionalidade do sentido, fugindo da possibilidade de que todos entendam que o oeste é a morte, ou que Greta é sua mulher, produzindo o efeito de que um sentido pode ter vários e nenhum ao mesmo tempo. Por isso que “Finnegan′s wake” será o coração da sua obra, porque nele eleva-se o mal-entendido à enésima potência. Neste livro tudo significa muitas coisas ao mesmo tempo. Molly, por exemplo, em “Finnegan′s wake” é o rio que de fato cruza Dublin, é ao mesmo tempo a mãe dele, é Molly, é o rio, é o mar, é a morte, é o eterno, é o que sempre volta.
Joyce faz essa superposição de significações porque, segundo Lacan, ele tinha um saber da letra, e nesse sentido Joyce é que demonstra Lacan, sem Joyce Lacan não seria demonstrado, seria uma prática a ser verificada só na experiência analítica.
O encontro do Lacan com Joyce era necessário, na medida em que Joyce conseguiu fazer uma produção universalmente aceita, que nos coloca o enigma do sentido.
Joyce desde os primeiros textos condensa vários personagens. Um suporta signos do outro, a ponto de confundi-los. Na última obra do Joyce, toda palavra é uma condensação de vários signos, onde a única coisa que sobra é a materialidade da palavra. “Finnegan′s wake” é como um caleidoscópio, lê-se uma página, entende-se uma coisa, mas, ao ler de novo, lê-se outra coisa, depende do estado mental daquele momento, porque pode-se atribuir à materialidade daquelas letras inúmeras significações. A habilidade de Joyce, sua arte, esteve em construir pistas de significações, cujas chaves os especialistas sempre acham que encontraram, mas há muitas chaves de leitura do Joyce, e o leitor ao não entender, pode achar que sabe o que o Joyce está dizendo. O leitor, na transferência com Joyce, produz um sentido, e coloca sua fantasia na materialidade do texto.
Interpreta-se o “Retrato do artista...” como uma profissão de fé de Joyce, em face do seu pessimismo frente ao exílio como destino de todo homem. Neste livro Joyce se apresenta como Stefen Dedalus, o nome que dá a si mesmo no livro. Dedalo foi o arquiteto do labirinto do Palácio de Creta, e a idéia de Joyce é que todos nós vivemos num labirinto, e nesse livro Joyce nos mostra como sair dele. No mito, quem sai do labirinto é Prometeu. Ele constrói asas e sai voando. Justamente o livro termina nessa cena. Representa o momento um que Dedalus-Joyce sai do colégio, o que equivaleria ao momento em que Ícaro cai no mar, porem ele não vê o labirinto como uma queda, mas como uma saída.
Nesta interpretação, o “Retrato do artista” representaria o ponto de vista de Joyce, de que através da arte, o sujeito humano pode se redimir; daí o interesse clínico de Lacan por Joyce, que. se deve ao fato de ele nunca haver desencadeado uma psicose. Isto faz com que. se possa ver a psicose de uma forma diferente, e surge a possibilidade de pensar-se uma “‘estabilização” da psicose que ocorra fora do delírio.
Lacan, no Seminário “O sintoma”, tentou teorizar de que forma a arte de Joyce produziu esse efeito, e para isso introduziu a noção de suplência, perguntando-se de que maneira a obra escrita de Joyce fez suplência do Nome-do-Pai, sem o que o Joyce teria se psicotizado.
Arte e psicose
Não há nenhuma definição de arte da qual se possa dizer que tenha sido de aceitação universal. A reflexão sobre a beleza e as Belas Artes existe desde os pensadores helênicos, na época de Sócrates, senão com outro sentido em filósofos anteriores.
Até a metade do século XVIII não se adotou o termo estética com o significado que agora tem, de designar a filosofia do Belo. Porém, até hoje, qualquer tentativa de se estabelecer os critérios do que é artístico é sempre insatisfatória.
Modernamente, a questão trazida pela produção artística passou a contar com um outro importante instrumento de investigação, a psicanálise, que, por sua particular metodologia, permite conhecer e aprofundar as causas da produção artística.
Este foi um tema que nunca deixou de atrair Freud, que sobre isto escreveu intermitentemente, e muitas vezes contraditoriamente, durante toda a evolução da sua obra.
Os críticos de Freud, baseando-se em geral na conhecida “Conferências introdutórias à psicanálise” [33] de 1917, sustentam que ele considerava o artista como um quase neurótico, cujas pulsões o levavam a buscar fama, fortuna, honra, poder e o amor das mulheres, mas que lhe faltaria capacidade para obtê-los.
Ao não alcançar sua meta na realidade, o artista desenvolve outros interesses, com freqüência afastando-se da realidade para expressar seus desejos, principalmente os sexuais, criando fantasias. A partir dessa posição, um freudiano deveria, presumivelmente, buscar no trabalho do artista as marcas da sua motivação neurótica ou sexual e ignorar as qualidades essenciais de forma e técnica, que gravitam em torno do valor da obra de arte.
Esta posição simplista provém das primeiras especulações de Freud que, por exemplo, colocava numa carta a um amigo em 1897: “mecanismo de criação literário é idêntico ao das fantasias histéricas”.
Em outros textos, Freud reconhece, porém, a necessidade que o artista tem de manter o contato com a realidade, e chegar a uma síntese de sua experiência com o seu desejo e fantasias neuróticas. Isso quer dizer que Freud retoma a diferenciação de uma produção sem valor de outra realmente “artística”. Isso talvez explique a freqüente falta de coerência nas posições de Freud sobre a arte, pois ele, sem dizê-lo, traçava uma diferença entre o artista comum e o gênio.
O neurótico não criador, o homem que se entrega às suas fantasias, o mal artista, segundo a opinião de Freud, evita a realidade ou a inclui numa proporção muito pequena na sua produção. Aliás, é famosa a fórmula exposta em “Totem e tabu” [34], livro escrito por Freud em 1913, onde ele abarca as principais expressões da cultura, dizendo que: “A histeria é uma caricatura da criação artística; a neurose obsessiva uma caricatura da religião, e o delírio paranóico uma caricatura dos sistemas filosóficos”.
Segundo a psicanálise, a inspiração criadora depende da atitude do artista poder entrar em contato com as suas imagens perdidas e com os sentimentos de seu passado infantil através de recordações e fantasias.
Esta seria a vantagem dos artistas plásticos e dos poetas que, por estarem menos submetidos que a maioria dos homens a fatores repressivos da cultura, teriam maior facilidade de acesso às suas fontes inconscientes. Este material, no entanto, sofre as mesmas modificações que o material onírico, havendo mesmo uma estreita correlação entre a produção artística e o sonho.
A possibilidade de se ter um acesso fácil ao material inconsciente, sem se deixar dominar por ele, mantendo um controle sobre o processo primário, é o que caracteriza o psiquismo do artista. A isso Freud chamou de “flexibilidade de recalque” por parte do artista. Assim, o recalque sexual como fator de criação e apreciação das artes é uma idéia chave da estética de Freud.
Porém, esta única concepção não satisfaz, pois o conceito de libido ampliou também a idéia de sexualidade, de modo que incluísse aí também a atividade cultural, além da atividade biológica sexual.
Desde este ponto de vista, a noção de beleza deriva de sensações sexuais e o amor à beleza aparece como exemplo perfeito de uma pulsão inibida quanto a seu fim: é a idéia de sublimação que viria trazer um novo avanço nas posições de Freud em relação à produção artística.
Esta seria vista como uma maneira de se conduzir impulsos inconscientes elevando-os à categoria de expressão artística. Ou seja, para um impulso inconsciente chegar a se transformar em expressão artística, as idéias recalcadas se servem de símbolos não inibidos conscientemente e socialmente aceitos. O que será que motiva o artista a produzir constantemente estas sublimações? A resposta de Freud é que o artista tem exigências inusualmente poderosas, as quais se vêem impedidas de satisfação pela disposição de Sujeito, que passa a viver num mundo fantasioso, limítrofe com a neurose.
Assim o artista não sucumbe à neurose, pois representa como satisfeitas suas fantasias através da obra de arte. Esta suaviza os aspectos angustiosos dos desejos recalcados, oculta suas origens no artista e, mediante a observação de regras estéticas, suborna o apreciador da obra com uma recompensa de prazer.
Em resumo, as hipóteses de Freud sobre a arte poderiam ser expressadas como sendo uma defesa frente a idéias e impulsos perturbadores, que encontrariam sua expressão sublimada na expressão artística, porém, esta função defensiva, na maioria das pessoas, somente superficialmente se assemelha à produção artística, e geralmente desaparece junto com a angústia, de modo que a enfermidade e a arte se curam ao mesmo tempo. Resta a questão do gênio artístico, que, enfim, a psicanálise não pode explicar. Para Freud, o prazer que se pode obter com a defesa que decorre na produção artística repousa sobre uma base precária e representa um momento da evolução neurótica.
Toda a questão, do ponto de vista psicopatológico, está ligada à natureza do processo de defesa que Freud descreve como uma aversão a dirigir a energia psíquica, de modo tal que dê por resultado o desprazer.
A estética freudiana teria, então, de encontrar um modo de abordar o gozo contemplativo do espectador e o gozo do criador, para passar de uma psicanálise de arte, para uma estética da arte.
Como vimos, Freud identifica a expressão artística a mecanismos neuróticos. Porém, já desde o século passado, o estudo das expressões de pacientes psicóticos na pintura, escultura, literatura e teatro tem atraído a atenção dos psiquiatras e, mais recentemente, dos psicanalistas.
À luz desta investigação, tornam-se mais patentes as diferenças conceituais entre os processos neuróticos e os psicóticos. Haverá uma especificidade da arte psicótica? Quais suas diferenças com a produção dos neuróticos?
Do ponto de vista da estética, há uma marcada semelhança da produção artística, principalmente plástica, dos psicóticos com a produção artística das crianças e de certas sociedades primitivas. Do ponto de vista psicopatológico, a especificidade da arte psicótica depende da delimitação do conceito de psicose e da delimitação da sua tipologia, pois não é a mesma coisa a interpretação de um texto literário de um paranóico da de um quadro de um paciente esquizofrênico. É conhecida a análise que Freud faz do texto de Schreber [35].
É também conhecida a função curativa que a escrita produz em certos pacientes paranóicos. O impulso de pintar pode ocorrer em pacientes nos quais a fala e a escrita permanecem intactos ou, então, em pacientes em que há muito existem alterações nestas possibilidades de expressão.
Como nos neuróticos, também nos psicóticos a atividade expressiva, qualquer que seja, tem uma significação dinâmica. A experiência psicanalítica sugere que se considere essas expressões como parte e sintoma de uma tentativa de cura.
No entanto, se a arte foi para Freud uma via de acesso ao inconsciente, como o era para o neurótico, a criança e o primitivo; no psicótico o inconsciente, ao contrário, é uma forma de abertura para a arte.
O inconsciente é criador, por definição, e proporciona espontaneamente suas próprias formas. A tendência que determina o sentido do mundo se manifesta em imagens simbólicas e espirituais que expressam sua relação do homem com o inconsciente. A arte representa, pois, uma visão de mundo sintética determinada pela estrutura do inconsciente. Ali se pode buscar a origem da arte.
Os sinais sintomáticos do processo esquizofrênico referem-se a uma desorganização dessa estrutura psíquica. A atividade criadora, nestes pacientes, é o caminho inverso ao processo do enfermar; é uma tentativa de reorganizar, de reintegrar as funções perdidas.
Durante a evolução dos processos psicóticos, a produção artística desses pacientes evidência uma predominância do “processo primário”. A característica desse processo é a perda de algumas funções do Ego, que permite o estabelecimento de alguns parâmetros estabelecidos, como as leis da lógica aristotélica, por exemplo.
Daí a aparência caótica, louca, não compreensível da produção das pessoas neste processo. Também se constata na produção plástica desses doentes a quase total ausência de figuras humanas. Quando representam o rosto humano, é característico a rigidez com que desenham estas figuras. É característico o vazio da expressão do rosto, o que revela um esfriamento da afetividade, um desligamento do mundo humano e do contato com o semelhante.
Nas criações visuais dos esquizofrênicos, encontramos raramente rostos representados de forma que possamos compreendê-los. E quando isso ocorre, significa um avanço na cura do paciente, pois a expressão humana é dirigida aos outros, e sua intenção é a de estabelecer contato.
Alguns autores (Kris) [36] atribuem a dificuldade de representar à expressão facial, observada nas obras de esquizofrênicos como decorrente de um distúrbio de seus próprios movimentos fisionômicos e da impossibilidade de decodificar a mímica facial do interlocutor.
As teorias freudianas sobre a arte se limitam à estrutura neurótica, onde operam os mesmos mecanismos dos sonhos, ou seja, deslocamento e condensação, tendo como resultado a simbolização como possibilidade sublimada da realização socialmente aceita de desejos recalcados.
Porém, na observação da produção plástica de pacientes esquizofrênicos, se colocam outras questões que ultrapassam a explicação freudiana.
Dentro da produção plástica desses pacientes, se impõe uma desorganização representacional, uma ausência da figura humana coerentemente organizada e, quando esta existe, há uma ausência de expressividade do rosto humano.
Dentro da terminologia psicanalítica, isto ocorre devido ao predomínio do processo primário, havendo falta de organização, de submetimento às leis da lógica clássica, uma falta de adaptação aos critérios de realidade.
A própria evolução dos estilos artísticos tende para este tipo de representação da realidade vivida pelo artista, rompendo com os padrões clássicos (reais?). É o que mostra o impressionismo etc., atingindo seu apogeu no surrealismo, cubismo e, principalmente, no abstracionismo.
Seria coerente designar estes estilos de arte moderna, ou moderna seria a aceitação pública de produções mais próximas de nossos padrões inconscientes? O que a clínica nos ensina é que, desde o ponto de vista psicopatológico, a expressão criativa nos pacientes esquizofrênicos é uma tentativa de reestruturação, de reorganização do seu mundo, e isso se faz, progressivamente, a partir da possibilidade de representação da figura humana, da imagem do outro e de si próprio.
À diferença do neurótico, no psicótico a simbolização está submissa a uma dificuldade da captação espacial, onde se situa o lugar da organização corporal.
No neurótico, o corpo organizado se simboliza no que lhe falta em termos de sexualidade e morte. Ao esquizofrênico lhe falta o próprio corpo, que aparece despedaçado, perdido. A sua tentativa expressiva é uma tentativa de reunificação, de reintegração, de reencontro com sua unidade perdida.
Daí a importância das atividades de terapia ocupacional, não só as atividades de expressão plástica, pois, muito mais do que através da psicofarmacoterapia, é no âmbito do ser e suas relações com o mundo que a cura do esquizofrênico tem jogado suas chances.
Teoricamente, poderíamos encontrar uma possibilidade de formalizar estas observações clínicas da produção de pacientes esquizofrênicos, que fogem ao referencial freudiano, tomando a proposta implícita na teoria de Lacan, sobre o Estádio do Espelho.
Esta teoria, além de dar conta do momento constitutivo da função do Eu na subjetividade humana, também organiza a questão da captação espacial e suas conseqüências para esta subjetividade. Ela parte da observação de que o bebê humano nasce com seu sistema nervoso imaturo, pois este ainda não está mielinizado, ocorrendo tal fato numa orientação cétalo caudal no período de até aproximadamente dezoito meses após o nascimento.
A decorrência deste fato é a incapacidade de organização motora do bebê, a qual se dá progressivamente. Porém, o que se observa é que antes de haver uma possibilidade orgânica da criança, através da coordenação motora, ela já se reconhece a si mesma no espelho. Isto quer dizer que há uma antecipação do psicológico ao biológico, e este fato é o que irá orientar a conformação da estrutura psíquica do sujeito humano.
Na espécie humana, a visão da própria imagem, ou a de um semelhante, tem um efeito constitutivo. Decorre disto que o sujeito humano é estruturado por um elemento que lhe é exterior, lançando-o numa alienação que decide do seu desejo.
O que se observa na produção artística dos pacientes psicóticos é justamente uma regressão a esse estado anterior ao Estádio do Espelho, em que o corpo aparece não organizado, aparece despedaçado. A produção plástica dos pacientes esquizofrênicos mostra, justamente, este distúrbio da captação espacial que é organizada a partir da captação da estrutura do próprio corpo. Os diversos níveis de organização do espaço ou da imagem corporal representados na atividade plástica culminando na representação do rosto humano, significam a evolução da reintegração do esquizofrênico no processo de cura.
Esta organização, porém, não se dá pelos critérios anátomo-fisiológicos, mas através da organização da estrutura significante que se ordena segundo a história única de cada paciente.
Neste sentido, não há uma ética da estética, não há arte psicótica, existem sujeitos se buscando num outro incompleto, sujeitos perdidos num açougue infernal que é o próprio corpo.
A arte estará na sensação de prazer do observador, identificado com o esforço heróico desse sujeito em reorganizar o universo a partir da sua própria perdição. Esforço que superamos na infância e que este igual luta por reencontrar.
A caracterização das correntes de psicanálise pode-se fazer através da teoria dos símbolos. Freud, Jung, Lacan representam várias formas de encarar o problema conformando uma ideologia psicológica da arte.
Para Freud, o símbolo é alguma coisa que se tem que decifrar. Ele o opõe à razão, ainda que o explique em forma causal e determinista.
Jung se ocupa dos elementos arquetípicos da formação do símbolo. Vê, no símbolo, um substituto de algo e acentua seu caráter conformador a partir de si mesmo.
Lacan relaciona o Imaginário com o Simbólico e destaca a supremacia do símbolo sobre a imagem, mas o Imaginário não é ilusório, é o resultado da própria estruturação do Sujeito pela sua imagem corporal no Estádio do Espelho. Lacan apresenta o acesso ao Simbólico como superando a relação imaginária, e somente ao sair dela. A ordem simbólica se estabelece como constituindo o Sujeito e o inconsciente.
Assim, em Freud, se trata de decifrar os conteúdos simbólicos. Os símbolos não são fixos, mas uma simbólica é possível e ele a estabelece.
Em Jung, o simbolismo parte das formas e imagens de uma experiência numínica. Os símbolos são fixos e existe uma única simbologia universal.
Para Lacan, os símbolos provêm de um jogo único para cada Sujeito, sendo particular apenas para aquele inconsciente. Não há simbologia que não seja particular; não há relações simbólicas universais.
Desde este ponto de vista só é possível a interpretação da produção de um paciente a partir das associações produzidas por este paciente em torno da sua expressão artística. Ou seja, há uma soberania da palavra sobre o simbolismo, e ela, a palavra, é que vai dar valor às suas produções plásticas, que só aí adquirem sentido.
Moda e o discurso capitalista
A modernidade impõe novos pontos de vista sobre questões que, antes dela, foram explicadas através de idéias às vezes demasiado simplistas ou teorias que se valiam de recursos exageradamente reducionistas.
Gilles Lipovetsky, em seu livro “O império do efêmero” [37], alerta para este fato ao dizer que a moda “deixa impassíveis aqueles que têm a vocação de elucidar as forças e o funcionamento das sociedades modernas” [38] e acrescenta que:
"A moda é celebrada no museu, é relegada à antecâmara das preocupações intelectuais reais; está por toda parte na rua, na indústria e na mídia, e quase não aparece no questionamento teórico das camadas pensantes. Esfera ontológica e socialmente inferior, não merece a investigação problemática: questão superficial, desencoraja a abordagem conceitual; a moda suscita o reflexo crítico antes do estudo objetivo, é cada principalmente para ser fustigada, para marcar sua distância, para deplorar o embotamento dos homens e o vício dos negócios" [39].
Lipovetsky aponta em seu livro o fato de que a explicação da moda, como sendo unicamente uma expressão das rivalidades de classes, já não é atualmente satisfatória e então este autor propõe um liffing teórico para tirar a análise da moda desta explicação simplista, o que ele pretendeu realizar através da construção de uma história da moda conceitual, que levasse em conta não a “história cronológica dos estilos e das mundanidades elegantes, mas os grandes momentos, as grandes estruturas, os pontos de inflexão organizacionais, estéticos, socio-lógicos, que determinariam o percurso plurissecular da moda” [40].
Também é a este desafio da abordagem da moda que o livro de “Moda Divina Decadência” [41] responde, porém com outras categorias teóricas, as da psicanálise. Ao abordar a moda enquanto expressão do sujeito, este autor recorreu à opção de não tomá-la pela sua face evolutivo-histórica, mas sim de formalizá-la através dos recursos teóricos que o ensino de Lacan oferece, o que lhe permitiu propor que se pense a moda como discurso, e também a teorizou como uma atividade ligada à questão da imagem própria, pois a característica de discurso da moda está ligada à condição do ser, por princípio uma atividade para seres falantes, seres da linguagem. Os animais, por exemplo, não se problematizam quanto à imagem própria pela vestimenta.
Acompanhando o pensamento de Lacan a moda é um discurso, que coloca em funcionamento determinadas posições para o sujeito. O que implicará em modos diferentes de relação do sujeito com o sentido. Isto permite pensar a moda como um conjunto de relações estáveis mantidas através da linguagem, havendo ainda uma sugestão de aproximar o discurso que consiste a moda a um discurso sem palavras, ou seja, ao discurso entendido como uma estrutura necessária, conforme sugere Lacan no Seminário "O avesso da psicanálise" [42].
Com relação à questão da evolução temporal da moda, nem todos os historiadores acham que ela tenha existido em todas as épocas e em todas as civilizações, mas nenhum nega sua relação fundamental com o tempo e sua função de referencial cronológico.
Por exemplo, Lipovetsky, no livro antes citado, afirma, contra uma pretensa universalidade trans-histórica da moda, que ela seria localizável historicamente, e que ela não seria “consubstancial” à vida humana-social, sendo que somente a partir da Idade Média teria sido possível reconhecer a ordem própria da moda, ou seja, a moda como sistema.
Outros autores, como Gilda de Mello e Souza [43], entende que a maior dificuldade para se tratar um “assunto complexo como a moda” seria a escolha do “ponto de vista” para se abordar a questão, mas também não nega seu fundamento temporal.
Para esta autora, se há o ponto de vista do sociólogo, do psicólogo, do esteta, no entanto para todos eles se fez necessário um método. Gilda de Mello e Souza, no seu livro “O espírito das roupas”, afirma que a moda “é um todo harmonioso e mais ou menos indissolúvel, serve à estrutura social, acentuando a divisão em classe, reconcilia o impulso individualizador de cada um de nós e o socializador, exprime idéias e sentimentos, pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos” [44]. Porém cita a G. Tarde em “Les lois de imitation” [45] para lembrar que há uma concordância em situar a moda opondo-se aos costumes, residindo a diferença entre eles na questão temporal, onde os costumes, ao cultuar o passado, impediria o novo, e a moda ao cultuar o presente, proporciona a novidade.
Também houve uma tentativa da explicação da moda pelas suas ligações com a arte, ou mais precisamente com as artes do espaço, feita por Gerald Heard, no seu ensaio: “Narcisus: an anatomy of clothes” [46], tentou demonstrar a relação entre as formas arquitetônicas de uma determinada época e as relações que se expressavam através da moda do mesmo período. Estas seriam derivadas do Zeitgeist, espírito da época, que segundo este autor determinava todos os aspectos da vida da pessoa. O Zeitgeist , que é uma referência temporal, determinaria tanto os costumes como a moda.
Destes entendimentos para o fenômeno da moda, até a conclusão a que chega Lipovetsky no livro O “império do efêmero” [47], de que a moda estaria no comando de sociedades, e de que o efêmero tornou-se o princípio organizador da vida coletiva moderna, não é apenas uma questão de opinião, mas, como bem colocou Gilda de Mello Souza, de método.
Também é de Lipovetsky a afirmação de que viveríamos em sociedades de dominante frívola, último fio da plurissecular aventura capitalista-democrática individualista. Talvez por isto, de acordo com Lipovetsky, eis a ameaça que nos espreita: “Abram então os olhos para a imensa miséria da modernidade: estamos destinados ao aviamento da existência midiática; um totalitarismo de tipo soft instalou-se nas democracias, conseguiu semear ódio pela cultura, generalizar a regressão e a confusão mental ”.
Já para o autor de “Moda divina decadência” [48], o homem nasce vestido por linguagem, o que quer dizer que a moda vai vestir o sujeito mediante sua condição simbólica. E seria portanto a partir do Simbólico, da moda como simbólica, que ela demarcaria uma posição para o ser sexuado. Posição que seria uma referência ao tempo em que tudo começou, o que implicaria, então, tanto a sexualidade como a moda e a roupa. Ou como diz, apontando à razão do título de seu livro “... se preferirmos, queda do paraíso, cosimento de folhas de figueira, cintas e túnicas. Nesse sentido a operação da moda é divina, é pura criação. Criação essa que decai em produto, sob a forma de roupa, a ser usada com o semelhante. Nada mais adequado que nomear seu processo como divina decadência.” [49]
As articulações da moda com a moral, com o desejo e com a proibição, se impuseram necessariamente, então, para uma investigação orientada analiticamente, e este é o rumo seguido neste livro sobre a divina decadência.
“Ser causado pela moda como invenção é homólogo a ser causado por desejo” [50], diz o autor, e daí, segundo ele, se deduziriam as relações da moda com a produção e o mercado, assim como com o fenômeno das grifes e das etiquetas.
Mas dentre as várias possibilidades de articulações que o estudo da moda proporciona, a mais instigante para a psicanálise é relacioná-la ao feminino. A relação da moda com o feminino pode ser feita a partir do exame do feminino e sua relação com a nudez, o que “situa o feminino enquanto um campo que é suposto não ser vestido inteiramente por linguagem. Daí que a moda possa ser caracterizada como uma atividade que produz a vestimenta simbólica para dar conta da nudez, obtendo, como efeito, uma nova posição do ser” [51].
Que estas considerações possam ser articuladas com o uso do véu como roupa, recurso secular de masculinização, se transforma numa tese das mais instigantes e que promove um novo horizonte para o entendimento da moda, revista a partir do seu enriquecimento pelo saber psicanalítico. Do véu, passa-se para a máscara, único recurso para falar da falta na linguagem, de dentro da linguagem e completa um percurso, onde, através das expressões da moda, se aborda a falta, nesse seu estilo de inscrição.
As conclusões desta investigação psicanalítica pioneira sobre a moda são inúmeras e extremamente fecundas: a moda enquanto uma tentativa de definir “A” mulher. A moda enquanto uma ruptura cronológica, enquanto antecipação. A moda enquanto uma atividade provocada pelas mulheres, que encontra na tentativa de vestir a nudez, sua ligação com o masculino. Ou seja, a moda vem mostrar uma total irredutibilidade do ser falante em ser vestido por inteiro na sua condição de castrado.
Cumpre ainda aproveitar esta abertura proporcionada pelo estudo da moda, e estendê-la ao fenômeno moderno do consumo, símbolo da economia frívola, o que Lipovetsky, ainda no mesmo livro já citado, chama de “loucura tecnológica”. Os gadgets.
Para este autor estaríamos mergulhados no excesso dos automatismos, deslumbrados por instrumentos inúteis, que a economia neokitsch, consagrada ao desperdício e ao fútil, produziria incessantemente.
Os discursos, segundo Lacan, são modos de tratar o gozo, existindo o modo universitário, o modo do mestre, o modo da histérica e o modo do analista. O objeto, para Lacan, objeto causa do desejo, escrito como objeto pequeno a, ou simplesmente a, circula nestas várias posições discursivas.
Porém há uma particularidade dos discursos, que é a sua relatividade. Por isso, além dos quatro discursos propostos por Lacan, ao se modificar a vetorização dos elementos que circulam nos lugares, estrutura que constitui os discursos, é justamente quando a circulação do objeto pequeno a está comprometida que se dá, segundo Lacan, as circunstâncias do discurso capitalista.
Para Lacan o discurso capitalista seria ordenado por uma nova referência ao saber. Este saber, que tem sempre seu fundamento no sexual, seria amputado pela ciência, que o devolveria com todas as suas produções com um “Mais de gozo”, através de gadgets que coletivizariam um gozo massivo. Este seria o ideal de gozo do mundo capitalista.
A função da psicanálise seria então interrogar o desenvolvimento deste gozo, e propor uma experiência subjetiva, pela qual se possa separar o Sujeito deste gozo. Em “Televisão” [52], Lacan sugeriu que a “mais-valia” (referência a Marx) é a causa do desejo na qual uma economia faz princípio”. No seminário “De um Outro a um outro” [53], ele já havia aproximado o objeto pequeno a , objeto causa do desejo, à “mais-valia” de Marx.
Então, para Lacan, a extensão ilimitada da falta de gozo se articularia sempre com a captação do “mais-gozar” da mercadoria, relacionando desta forma “mais-valia” com ′′gozo” e objeto pequeno a . Por isto, ainda em Televisão, Lacan afirmou: “produção capitalista se vê assegurada pela revolução propícia que permite fazer durar seu duro desejo” [54].
Em 1972, numa conferência realizada em Milão [55], Lacan sugeriu a escrita de um quinto discurso, o discurso capitalista.
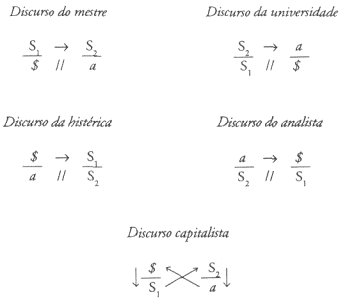
O discurso capitalista se caracteriza pela ausência de um movimento circular, onde o “mais-gozar” não está obstaculizado por nenhuma barreira. Na mesma época, nas conferências do que constitui o que foi publicado com o nome de “O saber do analista” [56], Lacan, referindo-se a Max Weber, em relação à ética protestante e o capitalismo, disse: “O deslizamento calvinista que nos últimos séculos introduz o capitalismo se caracteriza por distinguir o discurso capitalista pela recusa da castração” [57] e mais: “Toda ordem, todo discurso que se entronca no capitalismo deixa de lado a castração” [58].
O discurso capitalista, segundo Lacan, é derivado do discurso do mestre. Porém onde antes estava o lugar do significante mestre, S1, no lugar de agente, há uma inversão com o que o suporta, que no caso do discurso do mestre é o Sujeito barrado.
Isto quer dizer que há uma recusa da verdade do discurso, ao se inverter o vetor que conecta a verdade como lugar do semblante. O Sujeito então, no discurso capitalista, colocado como agente opera sobre o significante mestre colocado no lugar da verdade. Aí está a recusada castração, o que constitui o discurso capitalista numa circularidade. Por isso, como disse Lacan no momento em que formulou esta sua proposta de leitura da cultura, na conferência em Milão, “... a crise, não do discurso do mestre, a do discurso capitalista, que é o que o substitui, está aberta” [59].
Mauro Dias, ao situar a moda em relação à castração, necessariamente a articula em relação à sua negação e isso aponta a moda como um modelo do que Lacan chamou de “respostas do Real”. Fato este que permitiria uma recuperação da alienação do sujeito, o que se traduz na constatação de que o sujeito “... só veste a roupa do outro depois de ter sido vestido primeiramente por linguagem” [60].
Tal seria a importância deste fato, que autor nos adverte: “Através da moda pode-se inclusive pensar a constituição dos grupos humanos, numa perspectiva diferente da que Freud nos deixou” [61]. Esta perspectiva diferente da de Freud para a constituição dos grupos seria, efeito da conseqüência da alienação do falante, que decorreria do desdobramento do ideal como identificação ao significante, e no seu caráter imaginário, como alienação vinda da imagem do outro.
A moda então, no seu viés de roupa, de objeto (como gadget ), é o que causaria esta ilusão de completude que o sujeito buscaria para seu gozo impossível.
A constituição dos grupos humanos, pensada pelo viés do Ideal, tanto em Freud como em Lacan apontam a uma ética. A moda, pelo seu viés roupa, aponta a um uso social da exploração desta condição do sujeito, visto que a roupa como “mais-valia” de gozo se presta ao discurso capitalista, que para Lacan é “O discurso mais astuto que se haja jamais tido” [62], e acrescenta: “destinado a arrebentar. Porque é insustentável (...) ele não poderia correr melhor, mas é justamente que isso caminha assim velozmente para sua consumação, isso se consome, isto se consome, até sua consunção” [63].
Mas, na mesma conferência, em Milão, Lacan havia dito:
"Se houvesse existido um trabalho, um certo trabalho realizado oportunamente na linha de Freud, haveria talvez estado no lugar que ele designa esse suporte fundamental sustentado pelos termos: semblante, verdade, gozo, mais-gozar, haveriam estado no nível da produção, porque o mais-gozar é aquilo que se produz por efeito de linguagem" e continua "(Se houvesse existido um trabalho.) (...) existiria aquilo que implica o discurso analítico: quer dizer um uso melhor do significante como Uno. Talvez existisse, mas já não existirá, porque agora é demasiado tarde...” [64]
O pessimismo de Lacan, neste trecho de sua conferência em Milão, pode ser relativo à psicanálise, como um antídoto não usado em relação ao capitalismo?
[1] Freud, S., S.E., v. VII, p. 135.
[2] Freud, S., S.E., v. XIX, p. 179.
[3] Lacan, J. De um discurso que não seria do semblante, Seminário XVIII, 1970, inédito.
[4] Lacan. J. in Literature , 1971, n. 3.
[5] Lacan, J. Seminário XIX, 1971, inédito.
[6] Lacan, J. in Scilicet n. 4 1973.
[7] Lacan, J. RSI , in Ornicar, n. 2,3,4,5, 1975/76.
[8] Lacan, J. O seminário sobre a carta roubada , in Escritos, p. 13.
[9] Lacan, J. Seminário Livro IX , A identificação, 1961, inédito.
[10] Lacan, J. in Lettres de l′ecole Freudienne, 1974, n. 16.
[11] Lacan, J. Seminário XXII, in Ornicar, n. 6,7,8,9,10,11.
[12] Lacan, J. Conferências e conversações em universidades norte-americanas, in Scilicet , n. 6/7.
[13] Lacan, J. L′Etourdit, in Scilicet, n. 4, 1973.
[14] op. cit.
[15] op. cit.
[16] Lacan, J. Seminário XXIV, inédito, i976..
[17] Op.cit.
[18] Op.cit.
[19] Lacan, J., De uma questão preliminar a todo tratamento possivel da psicose, in Escritos, p. 537.
[20] Lacan, J., Seminário Livro XI, 1964.
[21] Freud, S., S.E., v. XXI, p. 81.
[22] Lacan, J. Seminário Livro XVI, 1968, inédito.
[23] Op. cit.
[24] Freud, S. Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen, S.E. , v. IX, p. 17.
[25] Freud, S. Escritores criativos e devaneio, S.E. v. IX, p. 49
[26] Lacan, J. O mito individual do neurótico ou Poesia e verdade, 1953.
[27] Op. cit.
[28] Lacan, J., Juventude de Gide ou a letra e o desejo in Escritos , p. 749 .
[29] Lacan, J., Homenagem feita a Marguerite Duras do Extase de Lol V. Stein, 1965.
[30] Lacan, J., L′eveil du printemps, in Ornicar ? n. 39, 1986.
[31] In Dublinenses, Ed. Civilização Brasileira, RJ, 1984.
[32] Ellmann, R., James Joyce , Ed. Globo, S.P., 1989.
[33] Freud, S. in S.E., v. XVII, p. 171.
[34] Freud, S. in S.E., v. XIII, p. 17.
[35] Freud, S. Notas psicanalíticas sobre o relato autobiográfico de um caso de paranóia, S.E. v. XII, p. 23.
[36] Kris, E. Psicanálise da arte, Ed Brasiliense, 1968.
[37] Lipovetsky, O império do efêmero , Companhia das Letras, S.P., 1989.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Dias, M. , Moda divina decadencia, Hacker editores, SP, 1997.
[42] Lacan, J. Seminário Livro XVII, 1969-1970.
[43] Souza, G. M. O espirito das roupas, Companhia das Letras,S.P.,1989.
[44] Ibid.
[45] Tarde, G. Les lois de límitacion, Op.cit.
[46] Heard,G. Narcisism:an anatomy of clothes, op. cit.
[47] Op. cit.
[48] Op. cit.
[49] Ibid.
[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Lacan, J., Jorge Zahar Editor, RJ, 1993.
[53] Lacan, J. De um Outro a um outro, Seminário XVI, 1968, inédito.
[54] Lacan, J.,Jorge Zahar Editor,RJ, 1993.
[55] Lacan, J. Do discurso do psicanalista conferência em 12 de maio de 1972 na Universita degli Studio ,Milan, inédita.
[56] Lacan, J. O saber do psicanalista , Seminário em Ste. Anne 1971, inédito.
[57] Ibid.
[58] Ibid.
[59] Conferência de Milão, Op. cit.
[60] Dias, M. Op. cit.
[61] Ibid.
[62] Conferência de Milão, Op. cit.
[63] Ibid.
[64] Ibid.
Arte e psicose
Moda e o discurso capitalista
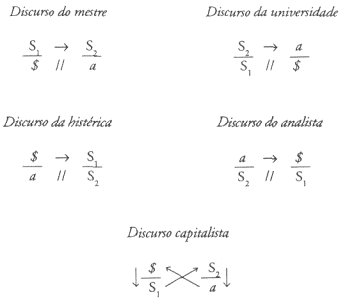
[1] Freud, S., S.E., v. VII, p. 135.
[2] Freud, S., S.E., v. XIX, p. 179.
[3] Lacan, J. De um discurso que não seria do semblante, Seminário XVIII, 1970, inédito.
[4] Lacan. J. in Literature , 1971, n. 3.
[5] Lacan, J. Seminário XIX, 1971, inédito.
[6] Lacan, J. in Scilicet n. 4 1973.
[7] Lacan, J. RSI , in Ornicar, n. 2,3,4,5, 1975/76.
[8] Lacan, J. O seminário sobre a carta roubada , in Escritos, p. 13.
[9] Lacan, J. Seminário Livro IX , A identificação, 1961, inédito.
[10] Lacan, J. in Lettres de l′ecole Freudienne, 1974, n. 16.
[11] Lacan, J. Seminário XXII, in Ornicar, n. 6,7,8,9,10,11.
[12] Lacan, J. Conferências e conversações em universidades norte-americanas, in Scilicet , n. 6/7.
[13] Lacan, J. L′Etourdit, in Scilicet, n. 4, 1973.
[14] op. cit.
[15] op. cit.
[16] Lacan, J. Seminário XXIV, inédito, i976..
[17] Op.cit.
[18] Op.cit.
[19] Lacan, J., De uma questão preliminar a todo tratamento possivel da psicose, in Escritos, p. 537.
[20] Lacan, J., Seminário Livro XI, 1964.
[21] Freud, S., S.E., v. XXI, p. 81.
[22] Lacan, J. Seminário Livro XVI, 1968, inédito.
[23] Op. cit.
[24] Freud, S. Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen, S.E. , v. IX, p. 17.
[25] Freud, S. Escritores criativos e devaneio, S.E. v. IX, p. 49
[26] Lacan, J. O mito individual do neurótico ou Poesia e verdade, 1953.
[27] Op. cit.
[28] Lacan, J., Juventude de Gide ou a letra e o desejo in Escritos , p. 749 .
[29] Lacan, J., Homenagem feita a Marguerite Duras do Extase de Lol V. Stein, 1965.
[30] Lacan, J., L′eveil du printemps, in Ornicar ? n. 39, 1986.
[31] In Dublinenses, Ed. Civilização Brasileira, RJ, 1984.
[32] Ellmann, R., James Joyce , Ed. Globo, S.P., 1989.
[33] Freud, S. in S.E., v. XVII, p. 171.
[34] Freud, S. in S.E., v. XIII, p. 17.
[35] Freud, S. Notas psicanalíticas sobre o relato autobiográfico de um caso de paranóia, S.E. v. XII, p. 23.
[36] Kris, E. Psicanálise da arte, Ed Brasiliense, 1968.
[37] Lipovetsky, O império do efêmero , Companhia das Letras, S.P., 1989.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Dias, M. , Moda divina decadencia, Hacker editores, SP, 1997.
[42] Lacan, J. Seminário Livro XVII, 1969-1970.
[43] Souza, G. M. O espirito das roupas, Companhia das Letras,S.P.,1989.
[44] Ibid.
[45] Tarde, G. Les lois de límitacion, Op.cit.
[46] Heard,G. Narcisism:an anatomy of clothes, op. cit.
[47] Op. cit.
[48] Op. cit.
[49] Ibid.
[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Lacan, J., Jorge Zahar Editor, RJ, 1993.
[53] Lacan, J. De um Outro a um outro, Seminário XVI, 1968, inédito.
[54] Lacan, J.,Jorge Zahar Editor,RJ, 1993.
[55] Lacan, J. Do discurso do psicanalista conferência em 12 de maio de 1972 na Universita degli Studio ,Milan, inédita.
[56] Lacan, J. O saber do psicanalista , Seminário em Ste. Anne 1971, inédito.
[57] Ibid.
[58] Ibid.
[59] Conferência de Milão, Op. cit.
[60] Dias, M. Op. cit.
[61] Ibid.
[62] Conferência de Milão, Op. cit.
[63] Ibid.
[64] Ibid.
